JORGE DE LIMA (1895-1953)
-
E tudo haveria de ser assim, para contemplar-te sereno, ó morte,
e integrar-me nos teus mistérios e nos teus milagres.
Agora vejo os Lázaros levantarem-se
e...
25 abril, 2009
OS SOBREVIVENTES FALAM, por Jorge Volnovich
OS SOBREVIVENTES FALAM
Jorge Volnovich
Os mitos são analisadores da história e através dos mesmos emerge o inconsciente da humanidade. Da mesma forma, os mitos familiares designam e produzem lugares subjetivos, memórias e afetos tanto singulares quanto coletivos numa sociedade. Minha própria história está marcada por um mito: meu avô materno, intelectual e membro ativo da comunidade judaica da Argentina, escreveu um livro. Seu título era “Os sobreviventes falam”.
Desde criança escutava, nos relatos cotidianos familiares, o que achava uma verdadeira façanha e nem imaginava sequer imitá-la. Ter um avô judeu, do povo, do livro, escritor de um livro sobre os testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, era um motivo de orgulho muito antes de haver lido o mesmo.
Devo confessar que, apenas na minha velha adolescência, tive a oportunidade de ler suas páginas, e resultaram tão traumáticas que decidi considerá-las chatas. De alguma forma, o mito superava a realidade – como todos os mitos – e ficava inscrito no desejo familiar de eternizar um vínculo que honrava a gente. Mais do que isso, o livro tornava a nossa família sobrevivente, inaugurando a onipotente idéia de que éramos capazes de sobreviver a todas as doenças, a qualquer desastre, até às guerras que tivéssemos que padecer.
Ah, doce onipotência aquela que acompanha a infância e a adolescência! Garante que sempre sobre-vivemos e não apenas podemos superar toda adversidade, mas que estamos além da vida e além da morte.
E não é o caso que o mito tenha funcionado plenamente no que a mim diz respeito!
Com efeito, como médico e psicanalista de crianças decidi, ou melhor, dizendo, o devir me levou a decidir começar a trabalhar, aproximadamente em 1995, com crianças e adolescentes objetos de maus-tratos, negligência e abuso sexual por parte dos responsáveis em protegê-los, o que envolvia, além da própria família, as instituições educativas, religiosas ou desportivas.
Comecei, então, a escutar os relatos dos meninos e das meninas, assim como dos adultos que foram crianças vítimas de maus tratos, e percebi que, em cada escansão traumática, falava um sobrevivente.
Os sobreviventes falavam para mim numa sociedade que proclamava, e ainda proclama uma forma de vida centrada na tecnologia e no gozo do consumo, como se as megalópoles fossem um gigantesco Shopping Center, enquanto seus relatos revelavam a existência de um campo de concentração e de trabalhos forçados sem esperança. Como sustenta Giorgio Agamben, existe uma vida “nua” oculta pela forma de vida pós-moderna e desta vida “nua” falavam e continuam falando para mim os sobreviventes.
O Rio de Janeiro é uma cidade de sobreviventes. Na sua memória estão inscritos o Massacre da Candelária, a Chacina de Vigário Geral, a extrema pobreza, a indigência e a mendicância, junto com os sucessivos fracassos da democracia representativa, o totalitarismo militar de 64, com seus mortos e desaparecidos, e tantos outros traumas sociais, políticos e subjetivos que, diante disso, qualquer catástrofe natural ou ambiental costuma parecer uma banalidade.
O mais importante é que todos esses “desastres” afetaram profundamente a subjetividade singular e coletiva dos cariocas. Ao mesmo tempo, a elaboração traumática dos mesmos resulta num penoso e triste percurso de exílios a outros países e “insilios” – neologismo criado por Hernan Kesselman - nos condomínios, casas, apartamentos ou comunidades fechadas, de retornos desses exílios e seus respectivos “insilios”, de tentativas frustradas e insistentes de reparar o irreparável.
Mas, caso tenha aprendido alguma coisa escutando os sobreviventes, isto é - que se sentem duplamente culpados - culpados de terem sido parte do ato que os vitimizou e culpados de terem sobrevivido ao mesmo.
Como um pêndulo em seu movimento incessante, o discurso das vítimas aponta no seu compasso o se desculpabilizar por terem sido vítimas, considerando que os agressores não apenas não sentem culpa, e caso tivessem uma outra oportunidade, atacariam de novo. No outro ápice do movimento pendular, a necessidade de se desculpabilizar por sobreviver e não haver morrido como os outros.
O Rio de Janeiro está cheio de vítimas que se sentem culpadas de terem sido vítimas e de sobreviventes que negam sua condição como tais.
Assim sendo, o pêndulo da subjetividade na nossa cidade torna-se uma tentativa permanente de esquecer e de se dissociar esquizofrenicamente, enquanto se exigem reparações impossíveis. Ou procuram-se desesperadamente culpados nos guetos impostos às minorias discriminadas e às maiorias supostamente incluídas.
Os sobreviventes falam e escutando suas palavras percebi até que ponto o esquecimento do trauma os condena a repetir ativamente os maus tratos que sofreram passivamente ou, muitas vezes, a trocar a categoria deste trauma (uma boa pancada) por uma omissão absoluta de qualquer limite às demandas dos outros. Não podemos ficar surpresos de que na nossa sociedade o autoritarismo tenha se transformado em vazio, mergulhando grande parte do nosso povo não apenas na categoria de excluídos, mas, fundamentalmente, na de esquecidos.
Os sobreviventes falam e escutando suas palavras constatei que, muito embora o autoritarismo e a ditadura violenta da paixão patriarcal tenham deixado marcas indeléveis nas mentes, nos corpos e nos corações, não são menos intensas essas marcas a respeito dos que calaram frente às feridas sofridas.
Com efeito, crianças e adultos que alguma vez o foram repetem sem cessar que o agressor é ainda mais perdoável que aquele que teria que tê-lo protegido e não o fez. Não é um erro: o inconsciente sabe que nunca o pior inimigo pode ser mais fatal que o silêncio do melhor amigo.
Os sobreviventes falam e escutando suas palavras ganha sentido para mim o significado da palavra refém.
D
e forma constante, os sobreviventes do Holocausto tentaram explicar que sempre foram reféns do nazismo e de suas próprias esperanças, ainda que não tivessem mais esperanças. Da mesma forma, toda vítima de maus tratos ou abuso sexual transmite a vivência de ter ficado numa armadilha, como refém do agressor, o que a levou a pensar que, embora sofrendo, melhor continuar suportando de forma masoquista a dor do que não achar nenhuma outra saída que não fosse a própria morte.
Podemos pensar que os cidadãos cariocas hoje são reféns de políticos, narcotraficantes, bandidos e até da culpa pela sua própria história?
Para não desmentir Foucault, os micropoderes reproduzem o caráter de refém que adotou a subjetividade singular e coletiva da cidade, que não é diferente no mundo globalizado que vivemos.
As crianças são reféns de um sistema educativo e familiar que diz que dá muito e na verdade oferece muito pouco. Os consumidores são reféns das leis do mercado. Os profissionais, em especial os que trabalham na saúde, são reféns de um Estado que os “libera” para serem autônomos e, ao mesmo tempo, os condena a viverem na precariedade.
Talvez o maior pecado cometido pelos governos atuais e passados seja precisamente não quebrar a condição de refém da nação brasileira, tanto das forças econômicas externas, quanto dos corruptores e corrompidos internos, o que explica parcialmente a cultura da precariedade na qual vivemos. Nesse sentido, sem dúvida, a maior parte dos brasileiros é campeã em sobreviver em condições precárias e ainda mais precárias... Sempre haverá espaço no Brasil para uma maior precarização da vida, dívida humana que o Estado não pode pagar com precatórios.
Os sobreviventes falam e escutando suas palavras ganha corpo e sentido o aforismo: “Não esquecer, não perdoar!” que nutriu as gerações posteriores ao Holocausto e hoje anima o discurso de várias organizações dos direitos humanos, como Tortura Nunca Mais.
Esse lema, “não esquecer, não perdoar!”, não fica restrito à procura de justiça e até de vingança inconsciente, que almeja toda sociedade contra os agressores, mas encontra sua maior potência quando ajuda a considerar sempre presentes as condições que possibilitam o surgimento do fascismo e do totalitarismo nas suas versões tupiniquins. Por isso é bom lembrar que numa cidade de sobreviventes, as leis podem ser bem mais duras, mas não conseguirão inibir os agressores, nem tornar as pessoas mais justas.
Ao mesmo tempo, quando falam os sobreviventes também é possível perceber a dignidade de seu discurso. Embora vivendo em condições precárias, alguma coisa dessa dignidade se torna corpo e merece que não seja letra morta o que chamamos “direitos humanos”. Mas quando me refiro aos direitos humanos, estou aludindo aos direitos de todos os habitantes deste planeta, não apenas aos meus direitos ou aos nossos, como bem assinala Gregório Baremblitt.
Talvez a maior dignidade do discurso dos que sabem que são sobreviventes deva-se ao fato de que não têm álibi, condição essencial, segundo Jacques Derrida, para retornar a certa condição humana perdida. A sociedade carioca, a que nega a condição traumática da história e a vida que tem que viver, fez do álibi um sinônimo de existência, considerando o cinismo que impregna as palavras dos políticos, dos intelectuais, dos profissionais, dos sindicalistas e, fundamentalmente, dos meios de comunicação.
Não falo de hipocrisia - porque em última instância os hipócritas vivem de álibis para sustentar o saber recalcado e esquecido - mas de cinismo porque, ainda sabendo o que acontece na nossa cidade, o desmentem sempre. Como Diógenes, nós, os cariocas, procuramos um discurso honesto e não conseguimos achá-lo nem em nós mesmos.
Talvez esse discurso só seja honesto, quando parte dos sobreviventes que sabendo da sua condição falam dos traumas que ninguém quer escutar.
De fato, o discurso do sobrevivente fica em oposição à razão neo-eficientista que domina nosso planeta, pela qual todo ser humano é uma sofisticada máquina eficiente, sujeito apenas às palavras de ordem com as seguintes instruções: caso não funcione corretamente, “desligue e ligue de novo”, e caso nem assim tenha jeito, “compre um outro, novinho em folha”. Com a potência performática deste tipo de discurso os cariocas devem ficar ligados ou des-ligados e muitas vezes descartados, no caso de apresentarem defeitos insalváveis.
Pelo contrário, escutar um sobrevivente significa mergulhar permanentemente no sentido trágico da existência, o que o consumo nega num universo de banalidades efêmeras.
Em cada frase, em cada silêncio existe uma dor e uma falta de reconhecimento dos outros para com essa dor, que desenvolve um universo paranóico que não permite nenhuma dissociação criativa, a menos que seja absolutamente esquizofrênica. Não é fácil suportar, no dia a dia, o falar um sobrevivente e, sem dúvida, muito menos fácil é compreendê-lo nesse pouco de heroicidade outorgado pelo saber demais sobre a morte e a vida.
É necessário, então, que um sobrevivente seja compreendido por um outro sobrevivente?
Muitos de meus amigos e colegas que entregam suas vidas e seu trabalho à proteção dos direitos de crianças e adolescentes neste país, sabem muito bem que o trauma dos sobreviventes é contagioso e costuma penetrar na carne dos que tentam dar um continente a seu discurso. Também sabem da vontade de beber o xarope do esquecimento por parte de uma sociedade ansiosa por reivindicar o pragmatismo de um corpo cheio de reais ou, pelo contrário, se identificar à figura do justiceiro por mão própria, ou promovendo leis mais duras contra os adolescentes cada vez mais novos.
Com efeito, são tantas as armadilhas cotidianas que finalmente costumamos cair nelas e, nesse sentido, devo reconhecer que, caso o inconsciente não arme ciladas, os psicanalistas são especialistas em gerá-las e cair nelas. E quando falo dos psicanalistas, faço-o não só em função de minha própria implicação, mas também pelo fato de sermos, em muitas ocasiões, responsáveis em escutar falar os sobreviventes e acabamos adocicando a crueldade do político real, numa rede interminável de fantasias familiares ou masoquismos irrestritos.
Não acreditem que falo dos psicanalistas, dos psicólogos ou dos psiquiatras apenas, mas também o faço de uma sociedade que coloca a sobrevivência como um problema de Saúde Mental!
Não é assim! Trata-se de um problema político-social-econômico e subjetivo, que nenhum tipo de hipercodificação - tipo stress pós-traumático - presente no CID-10 ou DSM-4, conseguirá resolver, a menos que pretendamos estigmatizar e enquadrar a vítima no seu nome de vítima. Aliás, a mais moderna parafernália de cura para os sobreviventes leva o nome de resiliência, uma outra palavra de ordem performática, destinada a absolver o Estado da responsabilidade para com seus cidadãos, e ao conjunto da sociedade da culpa frente à desigualdade social, criando a fantasia de que uma potência individual endopsíquica e biológica possa transformar um sobrevivente num mestre de si mesmo e dos outros.
Isto porque o problema da sobrevivência em nossa cidade, neste continente, em nosso universo, não é um problema menor que possamos atribuir às camadas pobres da população deste mundo. Muito menos de todos aqueles que se seguram na inclusão social pagando o preço enorme de serem normais e da loucura. A questão é que o discurso dos sobreviventes institui, antes de qualquer coisa, o discurso da resistência política e subjetiva aos mecanismos de captura alienantes, que tentam globalizá-los e adaptá-los através de uma tecnocracia cientificista, dentro dos códigos do stress pós-traumático. Como núcleo duro, trágico, ferida aberta à dor, o sobrevivente resiste, insiste e diz: “eu não me importo com o stress pós-traumático, muito menos com a resiliência. Nunca Mais!”.
Os sobreviventes falam: O livro que meu avô escreveu, o livro com os testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, é como um Nunca Mais. Talvez as jovens gerações não consigam ler seu texto duro ou considerem o mesmo chato pela intensidade traumática que propõe, mas sempre seu lema será um grito de dor e de esperança.
Os sobreviventes na nossa cidade são um mito, e dia a dia percebemos que a realidade supera o mito. Sustentam essa hiper-realidade homens e mulheres em farrapos, crianças e adolescentes na rua, milhares de vozes e rostos que não se conformam com as migalhas da justiça social e da outra. Alguns estão tatuados, como os sobreviventes dos campos de concentração: são os adolescentes que, em vez de números, portam na superfície do corpo as imagens da sua identidade.
Outros têm tatuada a alma e falam de um outro mundo possível: são os loucos que, ainda em pleno século XXI, têm negada sua liberdade e continuam recolhidos em hospitais psiquiátricos, que são verdadeiros campos de concentração, como sustentava Franco Bassaglia. Ainda mais, quando o Presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, assim como o Presidente da Associação de Psiquiatras atacam qualquer tentativa de levar adiante a reforma psiquiátrica com um discurso obscurantista, como bem assinala Eduardo Losicer num belo artigo a respeito.
Não faltam na longa listagem de excluídos todos os brasileiros estrangeiros na cidade maravilhosa, condenados a morar nos guetos desta megalópole, chamados antigamente favelas e, hoje, comunidades, como se mudando a semântica, mudasse a ideologia que anima esse confinamento.
Ainda lembro dos desenhos realizados pelas crianças numa Associação de Moradores de uma dessas comunidades, onde os foguetes espaciais e bonecas terrenas eram confundidos com desenhos da polícia, das armas e das questões da vida e da morte na favela. Esses desenhos, ratificando a condição de testemunhos de sobrevivência, como alguma vez relatou uma colega nossa, são semelhantes aos desenhos feitos pelas crianças nos campos de concentração nazista, que podemos observar na mais velha sinagoga de Praga.
Enfim, são tantas as vozes brasileiras que sustentam esta realidade mítica, que não seria suficiente apenas um trabalho deste tipo para contar todos os testemunhos de sobrevivência.
Mas como falava no início destas dolorosas palavras, meu próprio mito familiar foi criado para enaltecer. Da mesma forma, o sobrevivente é testemunha do privilégio da vida sobre a morte, da resistência aos ícones da estupidez humana, da transformação da vergonha em manifestações de dignidade.
A nós - que escutamos o discurso duro e traumático dos sobreviventes, seja nos grandes centros urbanos como nas comunidades mais afastadas e marginalizadas, sejam estes crianças, adolescentes ou adultos - a nós compete também sobreviver e saber que as palavras que nós mesmos dizemos estão carregadas dessa dimensão trágica que nos implica.
Isto é, pois, o que me foi ensinado ou o que tenho aprendido escutando os sobreviventes: a sobrevivência é um mito ativo que não está reduzido ao grito e à dor. Exige justiça e a obrigação de rejeitar a impunidade que sempre é o principal segredo do totalitarismo, como o foi antes do patriarcado e hoje o é do mercado.
Disso, falam/falamos os sobreviventes.
Assinar:
Postar comentários (Atom)

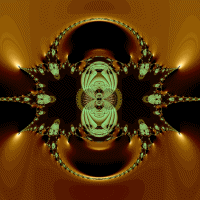


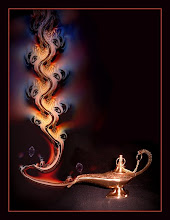
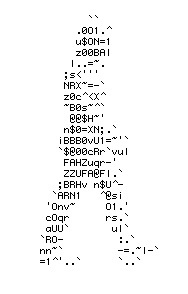








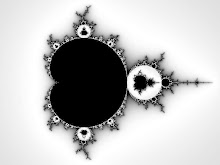



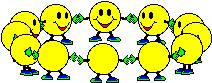

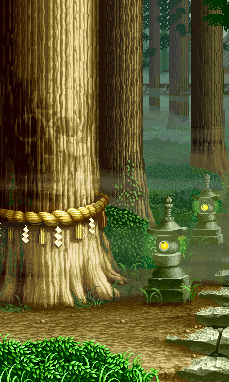.gif)

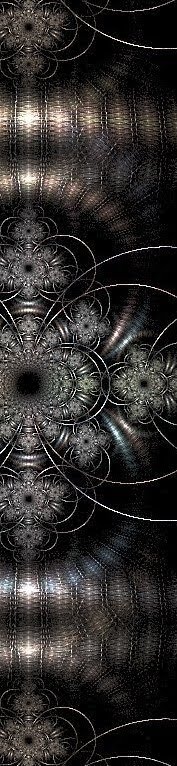.jpg)




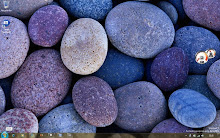




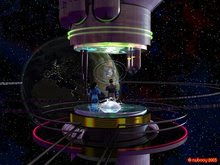






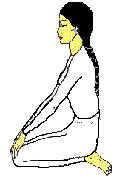

















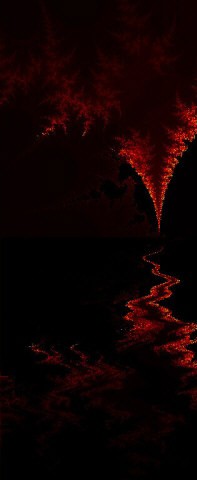


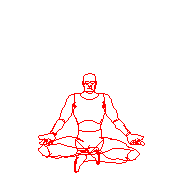





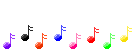











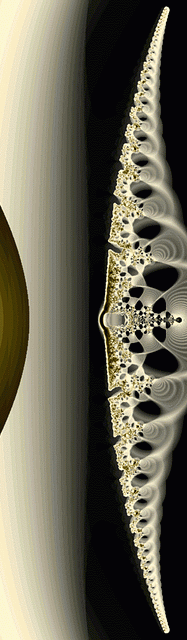

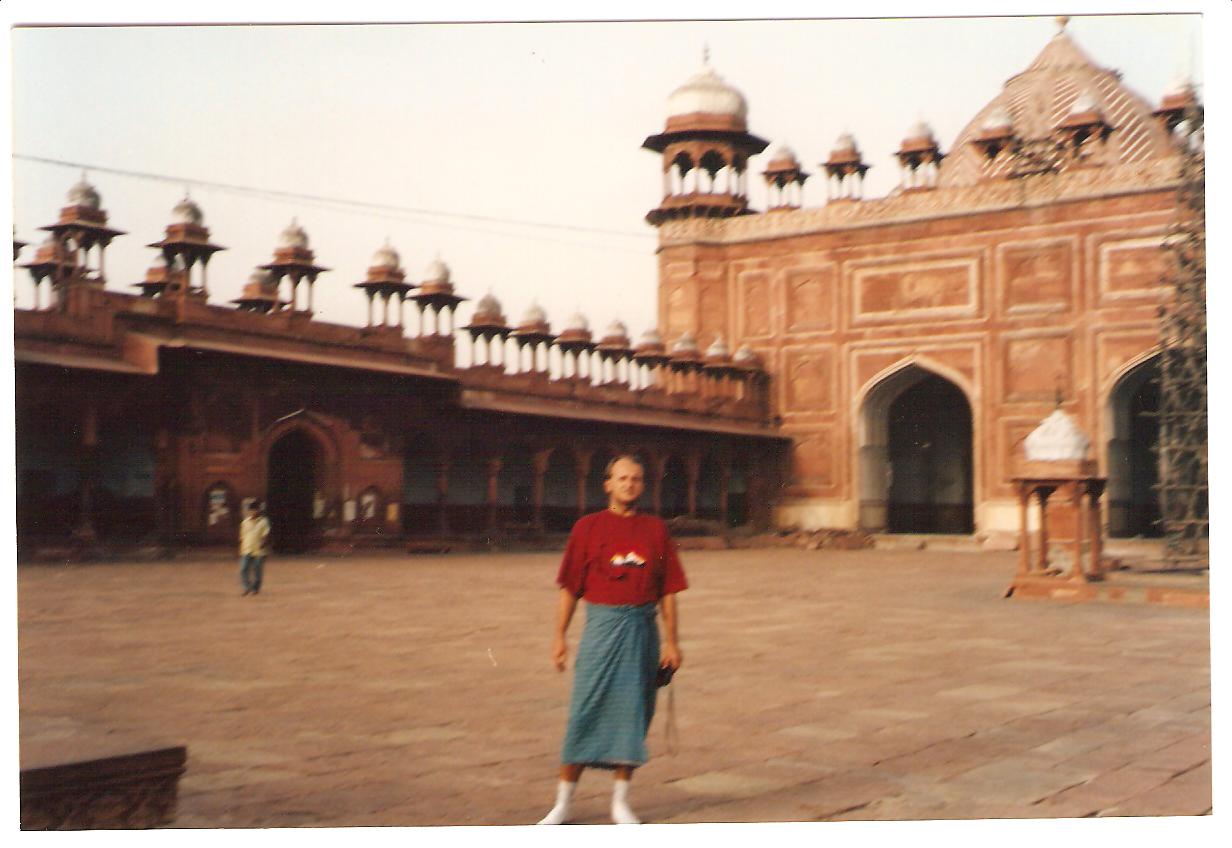




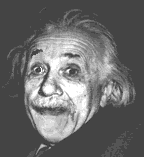





Nenhum comentário:
Postar um comentário